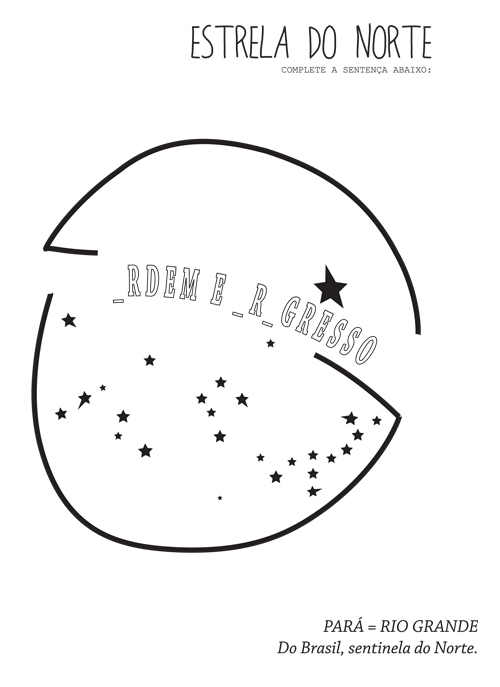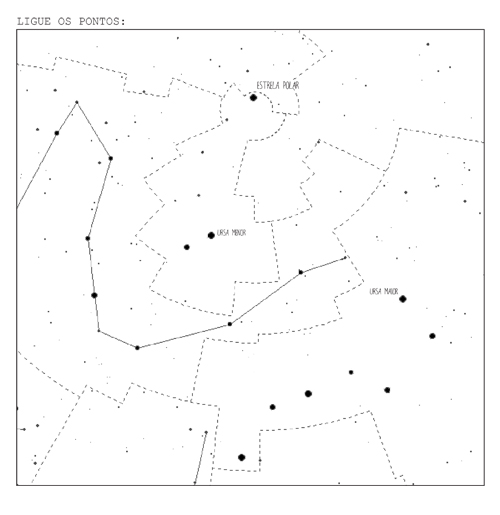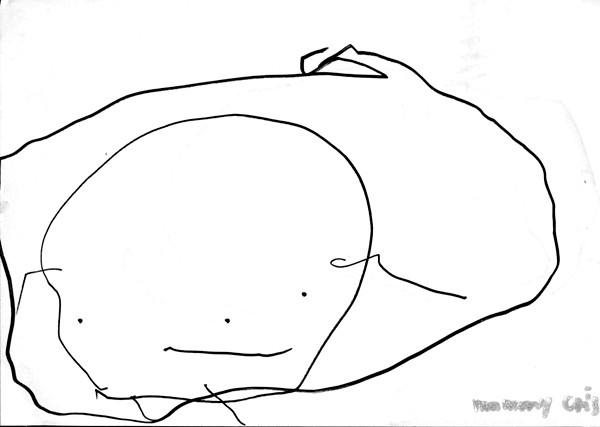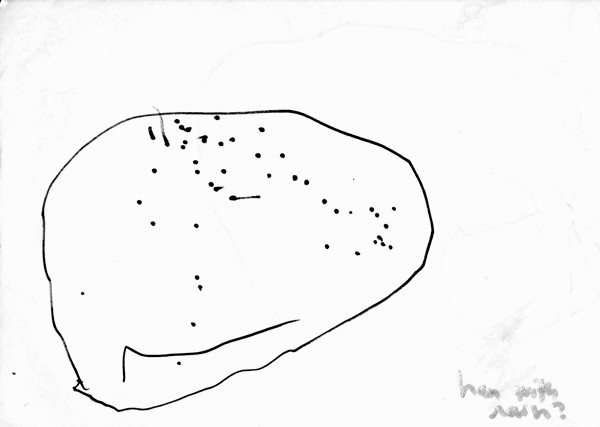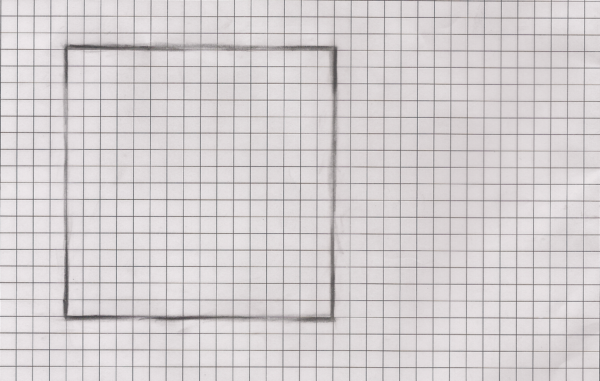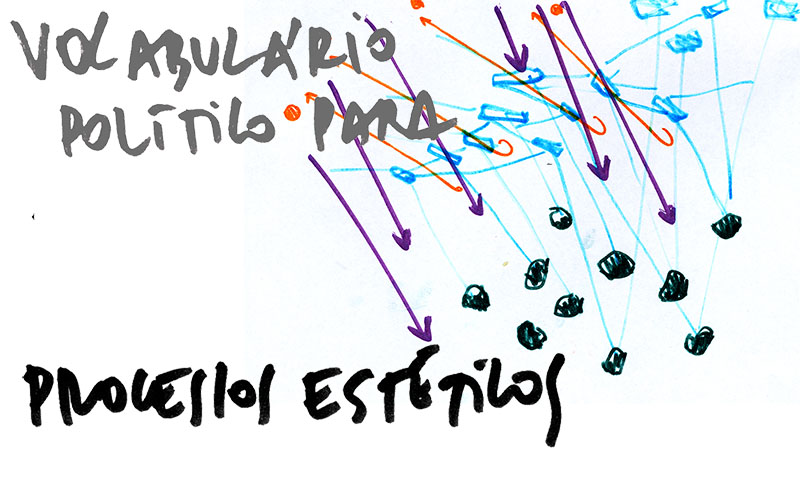Grupo de Educação Popular
// por André Bassères
Esse texto nasce de um problema, na mais forte acepção desta palavra: como força que vem de fora, me põe em movimento e me faz pensar. Uma questão que sempre me acompanha, que enquanto educador (ou alguém que se pretende educador), nunca posso deixar de colocar. Este problema que me move, esta inquietação que é a minha, imagino, deve aparecer de diferentes formas, com inúmeros nomes, a todos aqueles que vivenciam o espaço pedagógico na qualidade de “professor”, buscando com isso fazer das suas vidas e do seu ofício uma experiência de libertação, de aumento de potência, transformação de si, dos seus alunos, e do mundo. Esse problema, portanto, creio eu, é comum, comum ao menos a todos aqueles comprometidos com uma educação para a vida, para a liberdade, para a transformação da realidade (atividade que me parece intrínseca a todos aqueles comprometidos com a vida, em qualquer espaço, em qualquer ocupação).
De toda forma, trago aqui este “problema comum” na singularidade da minha experiência com ele. Este texto é uma pequena expressão de como eu sinto, vivo e penso a educação, e sobre também como penso e construo em conjunto com outros – não a resposta ao problema (insolúvel, devo dizer) – mas sentidos possíveis, aberturas conquistadas, rachaduras nas velhas muralhas claustrofóbicas que constrangem a vida, buscando apequena-la, sufocando resistências e diferenças. Não pretendo escrever um artigo acadêmico, ou algum tipo de “projeto” já acabado acerca de uma educação que seria a ideal. Trata-se aqui apenas do desenvolvimento de uma questão, uma breve narrativa acerca de algumas experiências, movida a partir de angústias, mas plena também de profundas alegrias.
Nomeemos, portanto, o problema: como pensar a educação como instrumento de libertação? Como fazer da educação um processo de emancipação comum a mim, ao outro engajado nesta relação comigo (o aluno, o colega), ao mundo? O problema, podemos colocar dessa maneira, embora o nome seja o que menos importa: como fazer educação popular?
Não é uma questão nem um pouco fácil de responder. No Brasil, talvez, seja ainda mais difícil que em outras partes, onde todos os poderes estabelecidos, todas as relações institucionais, parecem conspirar contra qualquer experiência minimamente transformadora de educação. Por aqui (não sei se é tão diferente assim em outras partes, mas enfim…), o sistema educacional é de uma perversidade absoluta, por que ele se constitui enquanto ferramenta fundamental na clivagem entre aqueles que irão se manter em confortáveis posições de privilégio e a vasta maioria relegada ao subemprego e ao desemprego; uma ferramenta racista, dura, onde qualquer princípio de uma suposta “igualdade” é destruído desde a creche. A distinção entre escolas públicas e as caras escolas privadas corresponde quase que perfeitamente à distinção entre as posições sociais que serão futuramente desempenhadas pelos respectivos “públicos”. Nossa educação traduz um elitismo quase estamental, onde a subordinação de um sujeito a uma vida de opressão e trabalho precarizado é assegurado desde a primeira infância; o mesmo valendo para aqueles que serão os seus senhores.
Mas o problema, entretanto, no seu cerne, naquilo que ele tem de mais íntimo, não é em sua natureza brasileiro, não se resume às agruras que se vive na educação aqui, nos salários baixos, carreira desvalorizada, péssimas condições de trabalho para os professores e alunos, etc. O problema, realmente, não é mesmo só esse, por que o problema é anterior, é mais profundo, constitutivo da própria noção de educação como entendida contemporaneamente: ele é antes de tudo a própria escola.
É um problema que se faz sentir no corpo e na alma de qualquer educador que se queira libertário, que se queira um elemento de composição e fortalecimento com os seus alunos, ao invés de guarda castrador, juiz e sacerdote dos “limites”. A pergunta que o problema suscita é imediata: para que foi feita a escola? Qual o seu sentido? O que se pretendia quando a universalização do ensino se tornou palavra de ordem nos centros do nascente capitalismo (ali, por detrás “das boas intenções”, dos “nobres ideais”), para depois ser exportado mundo afora? Que tipo de estratégia nascia ali, com que finalidade, apontando para que tipo de sujeito?
Todos estamos, é claro, cansados de saber a resposta (duvido que um único professor não a reconheça, mesmo que não queira pensar sobre isso, ou antes, abrace a sua “missão civilizadora”): o propósito sempre foi a formação como formatação. A construção de vidas adaptadas, conformadas a uma nova organização econômica, política, social: corpos dóceis, disciplinados (sinto calafrios ao lembrar que todos somos professores de “disciplinas”), prontos e preparados para uma nova realidade produtiva, um novo tipo de trabalho (que é antes um novo tipo de trabalhador), em suma, para as exigências agora impostas pelo Capital (em uma realidade que transcende a diferença entre classes, mesmo que sua estrutura fosse sempre adaptada a distinções classistas). Escola, hospital, fábrica, hospício, reformatório, e, aquele que constitui o modelo privilegiado, o paradigma dos demais: prisão. Eis as instituições disciplinares, e a sua finalidade nunca pôde ser outra que aquela de formar vidas para o capitalismo, nem mais nem menos.
O mundo, claro, mudou. E é necessário reconhecer que, se ainda há essa escola disciplinar, se ela ainda persiste em muitos de seus elementos (e é um fato que persiste), ela também vem sendo paulatinamente criticada, desconstruída, reformulada. De fato, o velho capitalismo fabril, monolítico, vertical (como os buracos de uma toupeira), tem dado lugar a formas bem mais sutis de dominação, a relações até certo ponto flexíveis, sinuosas (como os caminhos de uma serpente), a relações de poder e práticas discursivas que vêm transformando inteiramente os velhos campos institucionais que antes se colocavam unicamente como espaços de adestramento dos corpos, como produção de subjetividades passivas e prontas para um trabalho mecanizado, repetitivo.
Neste novo mundo que traduz um capitalismo modificado (e, portanto, pleno de novos sentidos e novas exigências), a educação é muitas vezes apresentada como já “liberta” de suas velhas amarras, suas constrições, suas jaulas. Seu íntimo parentesco com a prisão produz hoje horror (quer a ironia da história que os bons sentimentos de hoje muitas vezes não reconheçam os de ontem). Os grandes “reformadores” do discurso pedagógico contemporâneo vieram “libertar” a todos da escola-prisão. Assim como os grandes heróis da reforma psiquiátrica na Europa do final do XVIII, vêm ao nosso auxílio pedagogos, neurocientistas, psicólogos, psicopedagogos, e uma miríade de novos especialistas (que incluem, por mais pitoresco que isso possa parecer, economistas, administradores – até mesmo o Banco Mundial, vejam vocês, se tornou autoridade em educação). Graças a eles recebemos as boas novas: “não temam mais, viemos salvar os alunos de um ensino tirânico e opressivo; viemos também reformular a administração escolar, tornando-a eficiente, dinâmica, baseada em coeficientes de produtividade, trazemos conosco a modernidade para a sala de aula!” Ao menos nas escolas particulares por aqui, trazem também na bagagem seus smartboards – quadros interativos – e outros gadgets. Tecnologia de ponta: a grande facilitadora do processo de “ensino-aprendizagem” contemporâneo.
Em grande medida, esta “revolução” pedagógica se assenta em dois princípios (me refiro, é claro, aos “saberes” que têm sido apropriados de maneira hegemônica na educação brasileira, principalmente na pública, mas também na privada, e não a todo e qualquer esforço pedagógico; como queremos argumentar, este é um campo – como sempre – em disputa): a administração de uma escola deve se assemelhar cada vez mais a uma gestão empresarial, e o mais aterrorizante é que isso deve ocorrer mesmo em seus aspectos estritamente pedagógicos, na própria aula, na própria relação direta entre professor-aluno, libertando o aluno da “opressão” do modelo fabril, prisional, que, de certa forma, os professores ainda representam (não à toa, o ensino à distância ganha cada vez mais força: o professor é, neste modelo, cada vez mais dispensável).
Entretanto, salvar os alunos não é apenas modificar a estrutura escolar, e mesmo a forma como os professores dão aula (ou se eles dão aula de todo), introduzindo mecanismos de “eficiência corporativa”. É preciso realmente salvá-los! E, como o louco “resgatado” por Pinel e Esquirol dentre inúmeras figuras que infestavam os sanatórios do século XVIII, os “reformadores” de hoje vêm resgatar a criança doente da confusão indistinta que antes se fazia (a criança doente se separa das outras “anômalas”: as desobedientes, as preguiçosas, as agressivas, as mal-educadas, etc.).
Transtorno Desafiador Opositor; Transtorno de Déficit de Atenção (com ou sem Hiperatividade); etc.: muitas são as doenças que “assolam as crianças”, e muitos (e caros) são os remédios para trata-las. Hoje, cada vez mais, substitui-se a condenação moral sobre a conduta do jovem por uma avaliação psiquiátrica e neurológica. Nada a ser “punido”, mas sim “tratado”. O que se vê é uma verdadeira epidemia de medicalização da infância, assustadora mesmo que não entremos na penosa discussão sobre se tais “patologias” possuem uma “existência em si”, ou se elas são o outro lado do mesmo saber médico que as “descobre”.
Esses dois recortes pedagógicos que busquei desenhar (de maneira por demais genérica, esquemática e pessimista, é bem verdade), todavia, de forma alguma se excluem mutuamente, como se houvesse uma ruptura cronológica e hoje nada restasse da escola “clássica”. Muito pelo contrário: nas escolas do Rio de Janeiro o que se vê é a mais perfeita fusão desses distintos “modelos” de educação: temos uma secretaria de educação que avalia seus alunos e professores através de índices de produtividade (claramente tomados de empréstimo do modelo empresarial) medidas em provas regulares e outros mecanismos (interferindo diretamente no salário desses professores), mas que coloca, ao mesmo tempo, policiais na porta dos colégios para “cuidar da segurança”; temos uma educação que medicaliza seus alunos por “transtornos de aprendizagem”, mas sem jamais pôr realmente em questão a sala de aula, a quantidade de alunos em uma aula, a obrigatoriedade da presença, as notas, medidas punitivas, etc. Está lá todo o velho arsenal da escola “tradicional” que faz com que seja corriqueiro encontrar jovens na escola que a reconhecem claramente como a velha prisão, mas com nova roupagem.
E o professor libertário, não libertador, que compreende a educação como um processo coletivo, que não está separado (e nem pode se separar) das demais condições do mundo em que vivemos, deve procurar seu caminho nesta densa floresta de espinhos, entre o martelo da escola disciplinar conservadora e os mecanismos “modernos” de gerência da vida (até mesmo do ponto de vista da química cerebral), postos em prática pelos discursos “flexíveis” da lógica empresarial. É um caminho obviamente difícil, mas é o caminho da educação popular.
A crítica mais poderosa que se pode (e que sempre se pôde) fazer à escola e à educação é que elas estavam (como ainda estão, sem desconsiderar as novas relações de poder em jogo) a serviço da produção de um mundo desigual, doente, opressivo; a serviço da produção de subjetividades apaziguadas, submissas, prontas para um mundo de subordinação e exploração, cultivando as “competências e habilidades” necessárias para desempenhar suas futuras “funções sociais”. Buscar uma educação que liberte é, antes de mais nada, se despojar da indumentária da educação (tão presente na educação de hoje como foi na de outrora); é esvaziar os lugares instituídos de poder (em primeiro lugar, é claro, na sala de aula); é buscar um caminho com os alunos, abandonar a pretensão despótica de lhes “educar” (o que não significa que não haja transmissão de conhecimento, é claro que há, mas sempre numa via de mão dupla, de troca e de respeito pelas diferenças e vivências de cada um). É Paulo Freire sim, em cada palavra, mesmo que ele também, tragédia da história (ninguém é dono do seu próprio pensamento) seja apropriado pelos “reformadores escolares” que querem mudar tudo para não mudar nada. É, por mais que a palavra seja um clichê, uma atividade que se faz com amor, com entrega e disposição de se ver desprovido de um papel central e preenchido de autoridade. Por isso a educação popular, libertária, é uma militância, constante, feita dentro desses espaços a que chamamos “escolas” e fora deles.
E o bonito quando se faz essa educação com amor, essa militância pela liberdade na (e através da) educação, é que dificilmente se fica sozinho. A diferença busca a diferença: surgem sempre aqueles que também se indignam com as correntes, todas elas, da educação, há sempre aqueles a quem dar o braço, e seguir experimentando uma educação que não seja “dona da verdade”, que não opte por reforçar simplesmente saberes instituídos, em detrimento de toda uma infinidade de experiências, de discursos, de práticas. Uma educação que não busque perpetuar relações de poder institucionalizadas (sancionadas por aqueles saberes), que busque um espaço de trocas horizontal. Um espaço onde, nessa vivência, alunos se misturem com professores, suas figuras se diluem e se combinam, e onde, em uma assembleia na qual assuntos que são do interesse de todos são discutidos (desde questões práticas sobre aulas, até demandas da comunidade local), se torne difícil distinguir quem “chegou ali como professor e quem chegou ali como aluno”.
Aqui no Rio existem (como em qualquer grande cidade, imagino) alguns grupos que se engajam particularmente nessa luta. Um deles é o GEP, Grupo de Educação Popular, do qual faço parte.
Somos educadores populares (ou antes, buscamos a educação popular em nosso trabalho), agimos dentro das escolas públicas da cidade e fora delas, em diferentes experiências comunitárias. O grupo começou há sete anos, com um pré-vestibular popular no morro da Providência, após as “forças militares” que, naquela época, garantiam a “pacificação” da favela (como hoje fazem as UPPs) sequestrarem três jovens e os entregarem a uma facção criminosa rival daquela que controlava o tráfico de drogas no morro e na região. Os jovens foram barbaramente torturados e mortos.
O grupo inicial, muito deles militantes oriundos do movimento sem-teto no centro do Rio (que contava com algumas fortes ocupações, como a Quilombo das Guerreiras, a Zumbi dos Palmares, a Machado de Assis e a Chiquinha Gonzaga – única dessas que não foi removida pelo Estado), decidiu construir um projeto de educação popular que pudesse ir além da sala de aula, além do trabalho importante de tentar garantir o acesso de jovens negros e pobres à universidade, um dos espaços mais excludentes da sociedade brasileira. O que se buscou desde o começo foi um forte engajamento nas lutas e demandas não apenas da Providência, mas de uma das regiões do Rio que se tornou um dos alvos prioritários desse capitalismo predatório e selvagem ao extremo que o Estado e a iniciativa privada vêm experimentando no Rio: a região portuária. Um processo de violência que não se iniciou com a morte dos três rapazes, mas que certamente vem experimentando um recrudescimento da brutalidade somente proporcional à ganância dos investidores (à medida que a região vem se valorizando cada vez mais no mercado). Inúmeros despejos aconteceram nos últimos anos, comunidades inteiras arrasadas para dar lugar à especulação imobiliária, como a ocupação Quilombo das Guerreiras, despejada no começo do ano após meses de verdadeiro terror imposto pelo Estado.
Apesar do aumento da repressão e da violência estatal na região, o grupo cresceu e hoje somos muitos: educadores, alunos dos projetos que desenvolvemos (de modo absolutamente autônomo e independente), estudantes universitários, alunos de escolas públicas de diversas partes do Rio. Além de trabalhadores da região e militantes com outras experiências de luta. Na Providência, o pré-vestibular continua e um curso de alfabetização de adultos já funciona há vários anos. Buscamos estar presentes nos espaços comuns, e ajudar a fomentá-los, como assembleias populares da região e também de atos coletivos que combatem às inúmeras arbitrariedades que acontecem ali todos os dias. Hoje também atuamos fortemente como parte do apoio da ocupação Chiquinha Gonzaga, com oficinas para as crianças do prédio e outras atividades que ajudamos a organizar com pessoas da ocupação e de fora. Mais recentemente, nasceu um braço do GEP na Uerj e no morro da Mangueira, com, entre outras atividades que buscam cruzar a esmagadora fronteira que divide esses dois espaços na realidade tão próximos fisicamente (favela e universidade), um novo curso de alfabetização de adultos. Também atuamos em diversas escolas públicas do Estado, e no sindicato dos professores (SEPE), tendo uma presença forte nas lutas dessa categoria, em especial, nas últimas duas greves. O GEP educação pública une professores que pensam um novo modelo pedagógico e que lutam cotidianamente pelas melhorias materiais das escolas públicas, com os próprios alunos, aqueles que mais sentem a opressão dessa “negligência” e desse “projeto de educação” sobre as suas vidas.
O que faz deste um belo processo de educação popular é exatamente o fato de conjugarmos a crítica ao que normalmente entendemos como educação (e a construção de sua alternativa) com a luta popular, cotidiana, entendendo que o processo coletivo da educação deve, ao mesmo tempo em que se reinventa, apontar para uma transformação de mundo. São, na realidade, atividades análogas (ou mesmo, dois aspectos da mesma atividade), pois reinventar o que se entende como “relações de ensino-aprendizado” é já produzir uma singularidade no mundo, e todas as vivências e lutas das quais participamos são já um profundo processo de aprendizagem. Daí a inexistência de uma distância real entre o trabalho que muitos de nós fazem em escolas (em sala de aula e fora dela, mas ainda vinculados à escola pública, como nas greves e atos) e o trabalho comunitário que fazemos cotidianamente em espaços vivos e cheios de vida, de experiências belas e trágicas, de lutas e violências de uma brutalidade que não podem ser expressas por meio de palavras, como as ocupações e as favelas da Providência e Mangueira.
A própria educação popular é quebrar os muros da escola (mesmo quando não podemos fazê-lo fisicamente); é já um gesto de libertação. E a própria luta comunitária, cotidiana, é um intenso processo pedagógico de formação para a transformação, é educação no sentido mais pleno e poderoso que essa palavra pode assumir: troca, composição, afeto, construção coletiva. É já, na luta para mudar o mundo, a criação de um outro mundo, em cada uma daquelas relações, em cada pequena experiência: na rua ou na sala de aula, é emergir outro e apontando para outro mundo.
Talvez seja por aí (menos do que nas “justificativas oficiais”) que devemos buscar a real explicação para a pesada e inclemente perseguição do Estado, que recentemente emitiu ordens de prisão preventiva (por sermos “perigosos demais” para aguardar o julgamento em liberdade) contra sete militantes do grupo, além de outras dezesseis pessoas de outros grupos. Se estamos “a solto” nas ruas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, é apenas graças a um Habeas Corpus emitido por uma instância superior do judiciário, não sem antes termos de passar (como os outros perseguidos políticos) duas semanas presos ou foragidos, sob a alegação (sem nem uma única evidência concreta que incrimine os acusados) de “promovermos atos de violência nas manifestações” de Junho e dos meses subsequentes.
A acusação, de tão absurda e dramática, me faz lembrar o rótulo de “terrorista”, preferido pela ditadura militar para se referir àqueles que a combatiam. Atuamos com educação popular em espaços absolutamente abandonados pelo poder público (abandonados de políticas públicas, que fique claro, de nenhuma maneira abandonados das relações de poder e violência sistemática de todas as formas do capitalismo contemporâneo: aponto a prática fascista de pintar em casas da Providência a sigla da Secretaria Municipal de Habitação seguida de um número: a maneira pela qual a prefeitura achou por bem informar centenas de famílias que suas casas seriam derrubadas). Buscamos, pela educação e trabalho cotidiano, construir relações libertárias e potentes, compondo forças com os gestos de resistência que encontramos pelo caminho, gestos (ou melhor, gritos) que devem ser sufocados, vidas que devem ser esmagadas. E por que lutamos com eles, sem querer levar nada, nem salvar ninguém, sem almejar cargos públicos, nem verbas públicas ou privadas; por que queremos apenas juntar nossa voz às deles nesse grito, não nos podem perdoar. Paciência. A vida segue, e a repressão que estamos vivendo é ainda ínfima quando comparada com a violência reservada aos moradores de favela, aos pobres, às “classes perigosas”. A luta continua e o aprendizado também.
Concluo mencionando um trabalho que estamos fazendo, por nenhum motivo especial a não ser o de acha-lo bonito e de pensar que ali já acontece uma experiência de educação popular que vale divulgar: o trabalho que o apoio da Chiquinha Gonzaga (e muitos de nós do GEP estamos lá) tem feito na ocupação. Ali, vem nascendo nesta mesma semana em que escrevo essas linhas, um novo e potente espaço para uma educação popular, libertária, uma educação para transformação. Estamos angariando recursos e, braços dados, fazendo mutirões para reformar e reestruturar um amplo galpão que jazia abandonado há anos. Lá iremos continuar atividades que já vêm acontecendo e criar novas possibilidades. E elas são inúmeras: a alegria é sonhar com o que pode ser feito, com as múltiplas experiências horizontais, coletivas, companheiras, de educação que poderão nascer ali.
Mas certamente esse já querido espaço nasce sob bons auspícios: sua primeira atividade, no seu salão ainda vazio, sua estrutura ainda precária, foi uma oficina de Teatro do Oprimido para educadores populares.