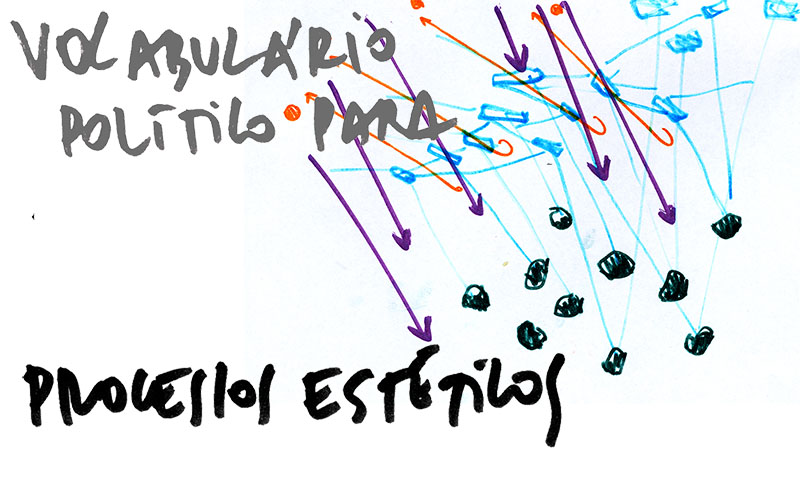– ou “Guia para orientar-se na multidão”
// por Pedro B. Mendes e Fernanda Kutwak (1)
Que peut un homme pour autant qu’il n’est pas seul?
[O que pode um homem uma vez que ele não está só?]
– Muriel Combes
Toda relação é, por princípio, trans
Diálogo
Se relacionar-se é por-se às voltas com o mundo do outro, e sobretudo de outrem – aqueles que não estando presentes se fazem efetivos na ausência, implicados que são na relação contrastiva necessária à nossa própria singularidade – é preciso afirmar algumas condições ao diálogo:
1) a existência de uma mesma língua, longe de nos igualar, faz emergir as diferenças, torna palpáveis as distâncias entre nós que, de outra forma, passariam desapercebidas; cada fonema, palavra ou fórmula linguística apela à nossa experiência de vida, a nossas preferências, nossos hábitos e cegueiras, cuja combinação é tão múltipla quanto o é nossa vida – e as línguas como parte constituinte delas. Sozinhos em nossos mundos-modos somos capazes de perceber as coisas apenas de acordo com nosso próprio ponto de vista, nossa própria singularidade. Se isto não é suficiente para nos colocar em contato com a diferença, não em termos radicais como exige nosso presente, deveria bastar para nos fazer perceber a singularidade de nosso próprio caso. Em outras palavras, esse ponto de vista só pode existir por que há outros que dele se diferenciam. É em contraste com outrem que nossas vidas são possíveis.
2) Todo diálogo é coextensivo à produção de um mapa experimental (complexidade) e instável que deve nos dar, a cada momento, os aclives e declives de uma relação, suas possibilidades, suas entradas e contornos, sem os quais toda conversação caminha inevitavelmente para um fim. Lacan dizia que a boa análise consiste em construir a boa distância em relação a tudo aquilo que nos afeta. O contraste entre as singularidades é um processo dinâmico de diferenciação, em que as distâncias vão aumentando ou diminuindo, em todo caso variando, construindo erraticamente aquilo que, por falta de imaginação, convencionou-se atribuir a uma hipotética “primeira pessoa” pura, do singular ou do plural, pouco importa.
3) O melhor mapa, ou antes, o único mapa possível de nós mesmos é aquele traçado pelos outros. A autoimagem é na verdade um patchwork constituído de imagens outras, imagens que os outros vão pintando de nós nos diversos encontros que entretecemos durante a vida. Aquilo que atribuímos ao “eu” e ao “nós” nada mais é que o recorte precário e cambiante – um espectro – dos vários atravessamentos que somos convocados a viver. (hidrosolidariedade) Portanto, se queremos saber como vamos ou (re)agimos em uma determinada situação, nada melhor que observar a sombra que fazemos nas luminosidades alheias, e vice-versa, a luz que projetamos sobre os corpos dos outros.
4) A palavra portuguesa “nós” dá conta da ambiguidade sutil de nossa condição. O “nós”, primeira pessoa do plural, contém a multiplicidade de relações que se esconde dentro do sujeito que age. Mas mais que conter, os “nós” da rede de pessoas que somos libera a diferença subsumida em uma suposta unidade da ação. Somos diferentes em relação a cada situação. Diferimos todo o tempo de nós mesmos. O jogo daquilo que resta e do que avança a cada encontro é exatamente o que tentamos conter precariamente com as pessoas verbais e o que torna possível que, sendo nós mesmos, sejamos tantos outros a cada momento. Nós: pontos em que convergem vias de comunicação.
5) Da mesma forma, cada combinação que traçamos ou de que fazemos parte tem possibilidades distintas, de acordo com os actantes-ingredientes relacionados e com as variações a que nos expomos e a que somos submetidos. Portanto, sem entrar em questões relacionadas à nossa importância no mundo – muito diminuta, é sempre provável – convém nos atermos às impressões que literalmente deixamos por onde quer que passemos. Nossos ideais são louváveis, nossas utopias parecem perfeitas, mas são nossas pegadas que deixamos por onde passamos. Elas são o rastro concreto de um mundo em construção: são os efeitos de nossas ações (e inações) que permitem avaliar as soluções que damos aos problemas. É em termos de efeitos que convém a tudo i n t e r p r e t a r.
6) Nem falante, nem ouvinte. Nem parte, nem todo. O mais importante em um diálogo é a relação que une e principalmente faz oscilar a posição de sujeito e objeto de acordo com as inflexões do momento. A expressão de uma diferença, um instante de surpresa e a palavra vai como o vento: são os intercessores que nos fazem mudar de rumo – e de forma, de natureza, de intensidade. É graças a eles que nos engajamos em movimentos outros, ora acelerando com o impulso inesperado de uma parceria, ora freando diante de um encontro pouco ou nada promissor; mas sempre oscilando de direção e de sentido ao sabor dos ventos e das correntes. Cada intercessor um encontro possível, cada encontro uma surpresa, cada surpresa uma diferença.
7) Last and maybe least. Um verdadeiro encontro, um diálogo honesto, não tem regras preconcebidas. Apenas duas leis, tão óbvias quanto necessárias, cada uma apontando para uma polaridade e um risco extremos: a primeira diz respeito ao esvaziamento da diferença e à colocação do outro numa posição de subalternidade, em que qualquer surpresa possível é sempre atenuada mediante uma explicação bem ou mal-intencionada – portanto, não apagar, não silenciar, não desqualificar uma fala. A segunda está ligada ao microfascismo que nos habita a todos, e ao qual é preciso aprender a resistir juntos; é sempre tentador suprimir a diferença incômoda, a posição dissonante, numa dinâmica cujo limite são a violência física e o assassinato – logo, não agredir e principalmente não permitir que se agridam as pessoas. A democracia exige esse compromisso básico.
Entrar em diálogo é inevitavelmente se transformar (escuta) e, assim, implica em correr riscos. Se as pessoas não se afetam, pode ser qualquer coisa, menos um diálogo!
— xxx —
Tradução
Na introdução à edição da Brasiliense de Satyricon, de Petrônio, Paulo Leminski aborda o ofício do tradutor-poeta em sua condição trágica: manter uma fidelidade essencial ao jogo estilístico tecido no original e assim perder parte do encanto proporcionado pelo conteúdo do texto; ou perseguir o rigor semântico e abrir mão da riqueza da forma poética. Diante da antinomia apresentada, cara a todas as boas traduções de obras consagradas, Leminski propõe um saída inusitada: se é para correr riscos, que seja com a arte dos equilibristas na corda bamba. Em outras palavras, a opção pelas duas vias e por nenhuma delas em especial – trair a ambas e ser fiel, na medida do impossível, também a ambas. Entre trair Petrônio e trair os vivos, escolhi trair os dois, único modo de não trair ninguém. Questão de dignidade, não de fidedignidade.
Equilibrando-se na transcriação do texto, o poeta-tradutor ora segue o caminho trilhado pelo autor, com seus valores de oralidade e naturalidade dos diálogos, ora se afasta dele para se embrenhar pelas veredas da linguagem em um arriscado corpo a corpo de fim imprevisível. Ora ainda abandona toda etiqueta e se permite incorporar, baixar mesmo, num download espiritual, a materialidade do sensível e literalmente percorrer – em pessoa! – o caminho impossível do autor, com o compromisso de envolver diretamente o leitor de hoje na vida de um texto dois mil anos vivo.
Como ocorre com Pierre Menard, autor do Quixote, de Borges. Pierre não é aquele que vai repetir Cervantes, mas alguém que busca viver uma outra vida até o extremo em que sua vida e seus deslocamentos vão assumir uma indiscernibilidade em relação às opções e à história do autor “original”: não se trata de copiar ou mesmo de reescrever a obra-prima da literatura ocidental, mas de se engajar numa relação absoluta com autor e obra; em que o absoluto não corresponde a qualquer totalidade, segundo a qual ainda estaríamos no horizonte da cópia e da imitação – mas ao germe que altera a própria vida que contagia a ponto de tornar as duas indissociáveis, não iguais! Pierre Menard deseja viver ao extremo as condições que levaram Cervantes a criar Quixote para que possa, também ele, dar vida, não a um Quixote, mas ao Quixote.
Em sua busca por criar algo que já existe – o que, nesse sentido, torna sua missão impossível – o desvairado autor se torna ainda outra coisa, pois que passa a seguir os passos (e os pensamentos) do próprio Cervantes. Que Borges tenha feito da história uma ode à identidade não apaga o feito – muito pelo contrário! – de que, em seu cerne, na suposta equivalência entre os dois Quixotes, e entre Pierre Menard e Miguel de Cervantes esteja o devir, que foge – e faz fugir – tanto mais quanto mais se tenta contê-lo. A história narrada por Borges, o fictício, não o escritor, tramada para encerrar duas vidas em uma mesma épica, acaba por mostrar a relação indissociável e imanente que existe entre univocidade do ser e multiplicidade ontológica.
Esse conceito radical de tradução como afetação / contágio faz eco à definição que alguns antropólogos dão de uma simetria das relações entre coletividades distintas: trata-se de comparar, de colocar em relação, bananas e maçãs, humanos e não-humanos sim, por que não? Somos todos diferentes, uns mais outros menos, temos todos desejos e construções divergentes, às vezes mesmo incompatíveis, que se encontram na base da própria vida.
Dialogo & tradução. O que eu falo é verdade, o que você escuta é mentira. Há um lapso entre o que eu digo e o que você escuta. Falo a partir do mundo, o meu mundo, você escuta a partir de suas referências. Um processo de tradução é necessário. De diálogo entre mundos.
— xxx —
Transdução (I)
Um hospedeiro contém um vírus.
O vírus, por sua vez, carrega o material genético daqueles com quem entra em relação, ou seja, ele também é, de certa forma, um hospedeiro; enquanto tal, o hospedeiro carrega um vírus que, por sua vez, carrega o germe de outra coisa.
Ao investir contra seu alvo, o vírus se apropria [por cópia] de um trecho do código genético deste. Ele replica o código, mas apenas parcialmente e o carrega consigo em suas futuras mutações.
A partir desse momento, de todo momento da vida do vírus, ele se torna a combinação de seu próprio código genético e de outros com os quais entra em relação durante a vida.
Não apenas o vírus se torna uma combinação única de códigos genéticos, algo como uma impressão digital genética e recombinante, por mais “familiar” que seja o ambiente em que circula(m), como as relações de contágio que ele estabelece se tornam também elas singulares.
A relação estabelecida depende do contexto em que corpo infectado e vírus se encontram e sobretudo da relação de força entre as defesas do primeiro e a capacidade de contágio do segundo. O jogo agonístico entre eles nunca é o mesmo e nunca se decide antes do encontro propriamente dito, e ao corpo infectado sempre é possível resistir à infecção.
Enquanto o corpo pode ou não resistir à investida do vírus, que nunca é um, mas uma multidão, a infecção se caracteriza por uma relação de indistinção entre ambos, que passam a se relacionar numa espiral de criação e destruição, de vida e de morte.
Se o corpo se torna perigosamente infectado, isto é, se torna mais e mais como o vírus, a ponto de reproduzi-lo e de se deixar infestar pelo agente patógeno, o vírus se torna outra coisa antes de seguir (ou não) sua trajetória contagiante. De toda forma, o encontro transforma a ambos de modo marcante.
Estima-se que um corpo humano adulto e saudável contenha dez vezes mais micróbios dentro de si que células humanas, todos vivendo em perfeita desarmonia. Não fosse esta relação, simétrica e em desequilíbrio dinâmico, e não teríamos passado da “pré-história”. Da mesma maneira, estima-se que este corpo abrigue exemplares de todos os vírus com os quais entrou em contato durante a vida, constituindo um bioarquivo de dados que lhe servirá de defesa pelo resto da vida e que, em uma situação de fraqueza, pode levar a novas infecções.
No entanto, a relação entre corpo e vírus é tudo menos previsível. A doença, por exemplo, epítome do sofrimento físico e psíquico, é naturalmente compreendida como resultando de um jogo de soma zero que, quando fora de equilíbrio, coloca em risco a saúde dos corpos. Por outro lado, é possível que ela seja apenas um dentre os vários desfechos possíveis que acaba por determinar nossa própria percepção – trágica – deste encontro. E não nos referimos aqui ao fato da doença ou do adoecer, mas à necessária reorganização de sua economia em relação à saúde e à vida.
Outras modalidades de relação que não a doença apenas são vistas cada vez mais como determinantes para a existência e o modo como a vida de corpos e vírus se desenrola em paralelo, na relação.
Cientistas e biólogos avaliam que essa evolução cruzada, não linear e interespecífica, seria uma das principais responsáveis pela variação das espécies, dando um colorido todo especial ao desenvolvimento destas; num limite extremo, ela seria suficiente, se confirmada, para reescrever radicalmente “a seleção natural”, teoria hegemônica nas ciências da vida, com suas séries específicas em uma luta renhida de todos contra todos pela sobrevivência, em favor de uma recombinação global contínua, cujo desenlace não pré-existe à relação.
São a qualidade e intensidade do encontro – em outras palavras, as possibilidades de afetação mútua – que vão determinar se a partir dele se produzirá vida ou morte, e em que condições.
— xxx —
Transdução (II)
Informação é aquilo que desequilibra, aporte de energia em um sistema dinâmico. Uma ideia, uma prática, um corte. Não se trata de uma causa em sentido clássico. Ou teremos que reconhecer que existem muitas causas, que causar é um atributo de tudo o que existe e difere. Assim sendo, a individuação vem primeiro: a relação que desorganiza institui tanto sujeito, quanto objeto. Meio e população se confundem. É apenas em relação à relação que podemos agir.
De onde vem a potência que chamamos ‘nossa’? Daquilo que, vindo de fora, nos afeta? Ou da apropriação mais ou menos involuntária que dele fazemos? Algo, talvez o que haja de mais importante, se passa em outro lugar, nem fora nem dentro. O agenciamento no qual tomamos parte não se presta a coordenadas estanques. Cabe-nos ficar atentos aos sinais que nos revela nossa intuição e desenvolver uma ética da alegria baseada no prazer de fazer juntos.
O problema da democracia (o quê fazer?) aponta para a democracia como problema (como fazer?). As soluções para quaisquer eventos são muitas e díspares. E é bom que sejam assim. O desafio é construir um problema que esteja à altura daquilo que vivemos, em comum. Fica combinado assim: problemas são para ser construídos; soluções para ser avaliadas.
Temos nos ocupado do que podem as vidas – e a vida como tal. Melhor seria se nos concentrássemos em disparar acontecimentos. O encontro é o verdadeiro fato social: não uma ontogênese como produção controlada de vida, mas a própria produtividade intensiva e caótica do agenciamento.
Toda criação, toda transformação provém de uma técnica. Mesmo aquilo que é fortuito só faz sentido no contexto de uma máquina social. Experimentação não significa voluntarismo. É preciso construir dispositivos de ação política. E testá-los, e aprimorá-los, e pô-los à prova para que eles continuem funcionando.
Nada, na luta, nos pertence. Nada que nos identifique, que nos aprisione ou nos imobilize. A angústia e a solidão são irmãs da partida. E é preciso partir sempre: abandonar a zona de conforto para sair e chegar a qualquer lugar. A desindividuação, processo necessariamente social, é condição para novas individuações.
O compartilhamento é a melhor arma contra a droga da unanimidade. Vive-se algo, criam-se coisas, e isso torna os espaços ocupados, vivos. Não o contrário. É a realidade da luta – as práticas, a percepção, o cotidiano – que produz o espaço e o tempo da diferença, sem os quais não existem nem a arte nem a política.
Questionar os automatismos sempre. Das técnicas de luta, quando experimentais, devêm magia. E podem ser eficazes para produzir efeitos de mobilização e de organização, ou não. As técnicas são boas para perseguir efeitos e estes dependem mais dos agenciamentos que elas ensejam do que de indivíduos determinados ou de nossa vontade imediata.
Ação simbólica é aquela que faz pensar, obriga a pensar. Quando algo acontece que ninguém sabe como reagir, é por ali que devemos ir. Mas atenção: pensar é ação coletiva. Ninguém decide o significado de um acontecimento sozinho, por decreto. Quando parcelas da população – coletivos, conhecidos, a mídia – começam a reagir de modo sincronizado e previsível, provavelmente é hora de levantar acampamento. É hora de encontrar outros intercessores.
Indicações de leitura
Gilles Deleuze e Felix Guattari. Os Mil-Platôs.
Eduardo Viveiros de Castro. Filiação Intensiva e Aliança Demoníaca.
Isabelle Stengers. Résister à Simondon?
Jorge Luis Borges. Pierre Menard, autor do Quixote. Ficções.
Paulo Leminski. Pré- e posfácio. Satyricon (Petrônio).